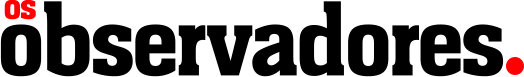G. K. Chesterton foi uma criatura paradoxal, até mesmo no aspecto físico: era uma mente rápida em um imenso e lento corpanzil. Foi chamado por muitos de “brilhante”, mas nunca quis brilhar; acusado de sofista, quando apenas queria ressaltar o contraste, ensinar por contradição. Não pregava contra a razão, mas expressava verdades comuns, tão evidentes que só poderiam ser vistas de modo pitoresco. Afirmar, por exemplo, que o homem é, ao mesmo tempo, animal e divino, mortal e imortal não são inverdades, mas verdades difíceis de expressar em meras palavras.
Seus paradoxos diferiam da arte cínica e blasé dos decadentistas do século XIX como Oscar Wilde, que nada comunicavam senão o tédio e o pessimismo. Em tudo o que produziu (e suas obras completas reúnem cerca de 80 volumes) sua preocupação principal era a salvação do homem. Sentia que tinha de transmitir ao mundo uma mensagem delicada e, por isso, repetia seus argumentos em diversos escritos: nas críticas jornalísticas, nos poemas, romances, biografias e até em suas histórias de detetives. Como disse uma de suas personagens no romance O Homem que foi Quinta-Feira, Gabriel Syme: “O que os gregos chamam de paradoxo, nós chamamos de coisas que maravilham”.
Nos vários gêneros, ao empunhar suas armas, a linguagem assumia a forma de frases bem humoradas, epigramas, imagens extravagantes e jogos de palavras. Batia-se contra a pompa e a gravidade solene de seus contemporâneos que viviam uma senilidade prematura travestida de ironia mordaz e de crítica destrutiva. Fazia oposição no plano das ideias, mas nunca perdia de vista o espírito cristão, que deveria, por intermédio dele, tocar até os que negavam o cristianismo. Sua tolerância era fruto de um compromisso com algo maior. Entretanto, sofreu a humilhação de ser aplaudido como artista e polemista, e não ser apreciado como um pensador preocupado com as questões últimas. A respeito da verdade, Chesterton sempre era censurado por ser muito divertido para ser levado a sério; mas como ele mesmo explicou na obra Heretics [Hereges]: o oposto de “engraçado” não é “sério”; o oposto de “engraçado” é “não-engraçado” e nada além disso.
O Clima de Opinião na Época de Chesterton
Contra quem Chesterton lutava? Como estava o clima das ideias na Europa?
Durante o século XIX, o ceticismo e o materialismo já estavam em curso. O cético era aquele que negava a realidade, e o materialista negava a alma. Na visão de Chesterton à tais pessoas não faltava racionalidade, e sim sanidade: “O sinal de loucura é uma combinação de perfeição lógica e contração espiritual” (Ortodoxia)
Via também aumentar a crença no determinismo (biológico, econômico, histórico etc) que, se aplicado aos assuntos humanos, necessariamente levava ao fatalismo. Viu surgir o culto à vontade, iniciada na Alemanha por Nietzsche, cujas ideias foram muito divulgadas por seu cordial inimigo, Bernard Shaw. Muitos desses problemas (e cordiais desafetos) podem ser vistos na obra Hereges, de 1905, em que faz um relato analítico das filosofias dos escritores de seu tempo que elevavam o relativo ao nível de absoluto.
O mais característico em todas essas filosofias e teorias modernas era a negação do bem e do mal, fundamento da moralidade judaico-cristã que moldou a Europa. Ignoradas por grande parte dos intelectuais e cientistas da época, as questões sobre bem e mal foram evitadas ou contornadas, ao mesmo tempo em que tentavam substituí-las por conceitos como ilustração e ignorância, progresso e reação, eficiência e ineficiência, saúde e doença. Não era de bom tom mencionar, por exemplo, o diabo no século XIX, assim como no século XX e XXI tendemos a ignorá-lo, apesar dos esforços do atual papa Francisco em trazê-lo novamente para o discurso teológico. A crença na ausência do bem e do mal, fez surgir uma forte reação no uso feito pelas Igrejas da doutrina de punições e recompensas e lançou-se um véu no eterno conflito que divide a mente do homem.
Os que ainda ousavam falar de bem, tomavam-no como uma qualidade passiva, pertencente a um universo ordenado e associada, de maneira vaga, à própria natureza e aos esforços do homem para conquistá-la. A maioria das pessoas acreditava que não existia objetivamente bem e mal, mas era nossa mente que fazia com que as coisas fossem boas ou más.
Chesterton teria tido menos trabalho caso tivesse se contentado em reafirmar as antigas virtudes sem denunciar os vícios, caso tivesse apresentado o lado positivo da moral cristã como a coragem, a lealdade, a cortesia. Estaria apoiado pela tradição e levado conforto aos leitores, sem ofendê-los ou provocá-los. Todavia, uma das características da coragem e integridade intelectual de um escritor é desafiar a unanimidade, especialmente nessas questões. Assim, Chesterton afirmou a existência do mal não somente como uma parte indispensável de uma filosofia que se diga ortodoxa, como também afirmou-o em nossas experiências cotidianas, como podemos ver no conto “O Diabolista”, no livro Tremendas Trivialidades.
Diabolistas, assim como santos, são difícieis de encontrar. A grande maioria das pessoas possuem virtudes e pecados. Contudo, nesse campo, Chesterton via crescer um outro tipo de determinismo: de um lado, a moda de um misticismo benevolente que negava todo pecado humano; de outro, a negação absoluta da existência de Deus (com no caso dos ateus) ou a negação da união entre Deus e o homem (deístas), fenômeno que retratou no poema “The Modern Manichee” [O Maniqueu Moderno].
Diz que não há pecado, e todo o pecado
expande-se, ao seu redor, num mundo desapiedado;
As trevas de seu universo de desonra
São a grande sombra de seu impudor.
Culpa tudo que o gerou, deuses ou instintos animais
Os pais, e não os filhos, repreende com a vara,
os pecados dos filhos afligem os pais
por todas as gerações, até o Deus zeloso.
No entanto, Chesterton tinha claro que o mal real e o pecado original tinham de ser o ponto de partida de sua argumentação e embora reconhecesse o mistério religioso, desejava trazê-lo junto à dura realidade e ao senso comum mais óbvio. Com muito bom humor, levava a vida muito à sério para permitir-se qualquer ilusão. Era profeta antes de ser poeta.
O profeta risonho
Ainda que o riso e o bom humor não sejam características muito comuns aos profetas bíblicos, por exemplo, Chesterton era profeta no verdadeiro sentido da palavra: tinha uma eloquência fértil, zêlo ardente e sinceridade; era um profeta risonho. Acreditava que:
O riso tem algo em comum com os antigos ventos da fé e da inspiração; descongela o orgulho e quebra o sigilo; faz com que os homem esqueçam-se de si na presença de algo maior do que eles mesmos, algo (como na expressão usada nas brincadeiras) que não conseguem resistir. [The Common Man]
Preocupava-se, sobretudo, com “do destino da alma”, com a felicidade humana e a filosofia que permitiria encontrá-la. Assim que acreditou ter descoberto (ou redescoberto) essa filosofia e, qual o negociante de pérolas da parábola de Jesus (Mt 13, 45-46), sacrificou tudo para dedicar-se à absorvente tarefa de defendê-la.
O desejo de advertir, de aconselhar e convencer surge em todas as obras de Chesterton. Além da preocupação com a salvação da alma, também preocupou-se em defender os verdadeiros princípios democráticos, a liberdade individual, os pequenos negócios e a propriedade privada contra a usurpação de um capitalismo de tipo manchesteriano e do Estado. Do início ao fim da carreira, atacou todos os modismos e novidades que pareciam-lhe pôr em risco seus ideais políticos e religiosos, tendo como horizonte o bem-estar moral da Inglaterra e da Europa.
Apesar de não ter sido muito ouvido pelos compatriotas em sua época, acreditava que os transformadores sociais, como os profetas, eram grandes otimistas. Indignavam-se não com a maldade do mundo, mas com a incapacidade e lentidão das pessoas em perceber a bondade da criação. Por isso, “o profeta não é um brigão ou um desmancha-prazeres. É simplesmente um amante rejeitado. Sofre de um amor não correspondido pelas coisas em geral”. [Introdução ao The Defendant]
O Homo Chestertonianus e Chesterton, o homem.
É impossível compreender a doutrina de Chesterton sem o elemento de consistência moral. Levado à fé pela crítica às heresias que o atraíram na juventude, toma partido da ortodoxia cristã. Nesse momento, ao assumir tal ortodoxia, o homem deixa de ser um animal superior cujas ações irresponsáveis são determinadas pelas circunstâncias e torna-se um ser superior dotado de alma imortal e livre arbítrio, o que lhe confere a faculdade de escolher entre o bem e o mal, entre os pensamentos e as ações que irão preservar ou destruir sua comunhão com Deus e os santos.
Tal percepção antropológica tornou-se mais aguda com sua conversão ao catolicismo, quase aos cinquenta anos. No entanto, isso não significa que exista um Chesterton antes e outro depois da conversão. Vinte cinco anos antes de converter-se já vinha defendendo os dogmas cristãos e nada do que dissera antes causava-lhe arrependimento, tanto que certa vez, ao comentar a respeito do ingresso na Igreja Católica disse que tinha se mudado “de uma casa menor para uma maior”. Para nossa sorte, mudou-se trazendo todos os pertences preciosos, e não jogou nada fora.
Antes ou depois da conversão, Chesterton nunca se limitou aos muros da igreja, fosse anglicana ou católica, contentando-se a pregar para os que já eram fiéis. Desde o início e até o fim escreveu suas obras demaneira tal que qualquer agnóstico, mesmo discordando de seus pontos de vista, pudesse ler com gosto. Nutria um profundo respeito e consideração pelas ideias do adversário – tinha um verdadeiro “espírito esportivo” intelectual. Como polemista, usava da mesma cortesia de um bom desportista para com seus oponentes. Quanto mais mordaz fosse o ataque, mais brincalhão e bem-humorado se fazia. Batia e não se importava caso, vez ou outra, fosse atacado. Nunca adotou a postura de superioridade de pregador ou o tom paternal de professor. Mesmo quando era sarcástico, mantinha um toque de hospitalidade. Portava-se como alguém que conversasse à mesa entre amigos e falava respeitosamente com todos, como se fossem pares intelectuais. Conseguia discordar da pessoa mais adorável e concordar com a mais desagradável. Esse elemento de simpatia pessoal – na verdade, sua postura moral – , era o segredo do sucesso. Em suma, Chesterton era uma espécie de amigo ideal que suscitava uma “amizade à primeira vista”.
Não acreditava, contudo, que fosse possuidor de características extraordinárias. Defendia o homem comum e, a seu ver, era um homem comum, igual aos demais homens. Como os verdadeiros santos, não possuía orgulho espiritual algum (o que relaciona-se também a duas de suas outras virtudes: a inocência e a humildade). Não guardava um pingo de ressentimento de seus adversários intelectuais ou políticos e era, na vida pessoal, amigo de muitos deles. Ao comentar sobre algumas características de sua pessoa ressaltadas por um articulista norte-americano, disse o próprio Chesterton:
Até onde compreendo, é tido como extraordinário o homem ser ordinário. Sou ordinário no sentido preciso do termo, que significa a aceitação de uma ordem, de um criador e uma criação; do senso comum de gratidão pela criação, pela vida e pelo amor como dons sempre bons; do casamento e do cavalheirismo como as leis que justamente os controlam e do restante das tradições normais de nossa raça e religião [The Thing]
As virtudes segundo G. K. Chesterton
No capítulo 12 de Hereges, Chesterton insiste na diferença entre as três virtudes teologais, Fé, Esperança e Caridade, e as quatro virtudes naturais, ou pagãs. As primeiras, acrescidas pela Igreja ao rol de virtudes pagãs, são alegres, exuberantes e irracionais; as pagãs são austeras, tristes e razoáveis.
Afirma, ainda, que as virtudes cristãs trazem em si um paradoxo e uma consequência prática: ter fé significa acreditar no inacreditável e nos dá certeza sobre algo que não podemos provar; a esperança significa confiar quando nada mais se pode esperar, tornando-nos dispostos em circunstâncias desesperadoras; e a caridade consiste em perdoar o imperdoável, o que faz com que possamos defender o indefensável. Em outras palavras, tais virtudes são interdependentes. Não pode haver verdadeira esperança e verdadeira caridade sem a fé.
Mais para o fim da vida, na biografia que escreveu em 1932 sobre Geoffrey Chaucer (1343-1400), pai da literatura inglesa e autor dos Contos da Cantuária, disse Chesterton:
A moralidade medieval estava repleta da idéia de que uma coisa deve equilibrar a outra, que uma coisa está de um lado ou do outro de algo que estava no meio, e esse algo permaneceu no meio. Havia vários movimentos ao redor desse centro, e perpetuamente as coisas ao redor alteravam as posições, mas preservavam o equilíbrio. As virtudes eram como crianças em volta da amoreira, só que a amoreira era a Sarça Ardente que simbolizava a Encarnação; aquele arbusto flamejante no qual a Virgem e o Menino aparecem na pintura, com René de Provence e sua amada esposa ajoelhados, um de cada lado.
As virtudes “irracionais” de G. K. Chesterton
1) A Fé
Na base de toda religião verdadeira vemos um senso de estupor, de maravilhamento em todas as implicações imaginativas e poéticas. Não podemos conceber um criador, a não ser que admiremos o mundo. A não ser que sintamos partilhar da tragédia e comédia da vida humana, não admitiremos o mistério de sua alma. O maravilhamento leva à felicidade e a felicidade à gratidão. Assim, intuímos que no maior mistério do universo está a fonte da verdadeira alegria.
Quando menino, Chesterton intuía não só que a vida era preciosa e misteriosa, como também sentia-se grato por estar vivo. Em todos os escritos posteriores preservou o mesmo senso de estupor que transformou-se em um elemento essencial de sua personalidade. Com todos os problemas e contradições, tomava o universo como um todo, como um dom maravilhoso pelo qual nunca seria suficientemente grato.
“É esse ponto de vista sacramental”, diz o Pe. Ian Boyd C.S.B., um dos maiores especialistas do pensamento de Chesterton:
que dá a melhor explicação para a unidade subjacente a toda a sua carreira como escritor. A sacramentalidade explica tanto o desenvolvimento de Chesterton como pensador, quanto sua prática literária como grande porta-voz da ortodoxia católica. Convencido de que a revelação de Deus deveria ser encontrada em realidades materiais, desenvolveu uma espécie de misticismo natural sobre o modo como essas realidades, aparentemente profanas, são, na verdade, sinais sacramentais de Deus. Num de seus primeiros e típicos poemas, ele conversa consigo mesmo sobre o sentido último do universo material. Dirige a si mesmo como um espécie de poeta-vidente, o visionário místico que descobriu o significado secreto da vida cotidiana:
Conhecedor das pedras e das ervas,
Hábil nas artes e nos credos da Natureza,
Diga-me o que está no coração
Da menor das sementes?
– Deus Todo-Poderoso, e com Ele
Querubim e Serafim,
Enchendo toda a eternidade, –
Adonai Elohim.
[The Holy of Holies – in: Communio 2008-4]
Ao continuar a explicação da visão sacramental de Chesterton, prossegue o Pe. Boyd:
Essa sacramentalidade, Chesterton acreditava, é derivada, diretamente, da Encarnação do Verbo de Deus. Desde a criação, Deus se revelou no mundo material que criou. Mas, desde a Encarnação, Deus se revelou mais claramente naquele Uno Santo, que se tornou um ser humano comum e que continua a viver no mundo, por intermédio das vidas das pessoas comuns, sinais luminosos de Sua presença perene:
A criança que era antes do início dos mundos
(…Precisamos, apenas, percorrer um breve caminho,
Precisamos, apenas, ver um trinco aberto…)
A criança que brincou com a lua e o sol
Está brincando com um pedacinho de palha [The Wise Men]
[…]
No livro sobre São Tomás de Aquino, Chesterton escreve, “A Encarnação se tornou a idéia central da nossa civilização”[1]. A vida cotidiana comum é uma nova encenação sacramental da história do Evangelho. Novamente, Chesterton expressa sua crença no Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, de modo muito comovente nos versos:
Se os corações ressecados, de fato, esquecem
o orvalho sagrado no chão sujo,
os Quatro Santos firmes ao redor da cama,
o Deus que morre acima da porta;
Mistérios que podem habitar entre os homens,
O segredo, como uma face que se inclina
obscura, mas não distante; e a noite,
não do abismo, mas do abraço.[The Pagans]
No afã de fazer-nos recordar o maravilhamento ao ver mundo pela primeira vez e o esquecimento que experimentamos, ao vê-lo pela segunda ou qüinquagésima vez, Chesterton quer que desfrutemos da surpresa de que tudo possa, afinal de contas, existir. Para isso, propõe em sua obra Ortodoxia uma “Ética da Terra dos Elfos”, que nos permitirá aprender a que verdadeira surpresa é dar-se conta que, segundo o mundo, não havia nada para ser visto, embora houvesse.
Ler novamente as histórias de fadas e aprender a viver segundo “o princípio da felicidade condicional” é a chave para recobrar o senso religioso e manter a sanidade mental num mundo de virtudes enlouquecidas, onde a imaginação é “calada” por uma educação racionalizante e cientificista.
Assim, visto por Cristo, com Cristo e em Cristo o mundo ganha sentido e adquire uma beleza mais serena e nobre, abrandada por sagradas limitações, assim como um andarilho que cruzou o mundo e encontrou o caminho de casa, permanecendo a caminhar pela rocha e não pelos caminhos de areia movediça. Por que Chesterton deveria alterar seu curso ou mudar de opinião por causa de algumas pessoas que desejavam sujeitar-se a modismos passageiros? Sabia porque preferia o casamento ao amor livre, a justiça à ilegalidade; a caridade à ganância; a franqueza à hipocrisia; o senso de responsabilidade ao fatalismo negligente. Viveu sua fé e ela se mostrou tão sólida e aterradora quanto um fato. A realidade tornara-se Deus, assim como Deus tornara-se realidade.
2) A esperança
Assim como a fé brotou para Chesterton da consciência da realidade, a esperança surgiu das simples bênçãos da vida: do amor, da amizade, do alegre espírito de aventura e do cortejo cômico do mundo. Nunca falou muito de sua vida espiritual e do conforto que recebera de Deus, mas sempre deixou explícito aquilo que recebera da vida e do amor.
A esperança, no entanto, não é só confortadora, mas é a guia da fé – aquela que a conduz por lugares perigosos e a faz transpor montanhas. Essa esperança está na própria origem de todas as mitologias e pode ser ouvida nos paradoxos do Evangelho: “quem perder sua vida, salva-la-á” (Mt 16, 25). Todas as outras virtudes seguem os passos dados pela razão, somente a esperança dá saltos e se lança no abismo tenebroso, pousando, mais adiante, em solo firme. Não foi à toa que Giotto deu-lhe asas.
A influência da esperança é sentida, por exemplo, quando abordamos a questão do mal. Na obra O Homem Eterno, Chesterton apresenta o problema da existência do mal afirmando que a observação e a razão podem nos ajudar a ignorar as soluções extremas (como as que acreditam que tudo está certo ou que tudo está errado, ou mesmo que certo e errado são iguais), mas nos serão de pouca valia para determinarmos se há mais mal ou mais bem no mundo – não podemos ‘acreditar’ que qualquer um deles seja a regra ou a exceção que confirma a regra. Só a esperança pode dar esse salto. Podemos acreditar que o certo seja o certo, mas só podemos esperar que, ao final, o certo trinunfe.
Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para a salvação do homem. A pessoa pode acreditar na imortalidade, mas só pode esperar ser salva. Na verdade, ninguém pode ‘acreditar’ na própria salvação sem colocá-la em risco. A relação entre a esperança a humildade também é digna de nota.
A humildade, disse Chesterton, certa vez: “é a arte luxuriante de reduzir-nos a um ponto, não a algo pequeno ou grande, mas a uma coisa absolutamente sem tamanho, de modo que para ela todas as coisas cósmicas são o que realmente são: de uma estatura imensurável”. [The Defendant]. Antes de nos ensinar a humildade religiosa, tão óbvia que já esquecemos seu significado, Chesterton nos faz voltar à Terra e nos ensina a importância das coisa pequenas e familiares.
Assim, percebemos a desproporção da grandeza de Deus e da pequenez humana, o que faz com que a salvação pareça algo distante. Somente ao perceber, cada vez mais, tal desporporção é que o homem pode esperar cruzar a ponte desse abismo. Caímos, se crescermos em nossa própria avaliação (orgulho); subimos, se reconhecermos nossa indigência (humildade). Os últimos serão os primeiros, eis a promessa da esperança.
Como vimos, então, a esperança está aliada à humildade, e a humildade só é alcançada pelo humor. Todos os humoristas são pessoas simples, o mesmo não podemos dizer dos satiristas vaidosos. Chesterton era mordaz na maneira como cunhava seus epigramas, mas para ele eram apenas fórmulas concisas para expressar verdades difíceis. Se tirarmos suas frases do contexto em que foram escritas, pouco diferem dos aforismos de Wilde e de outros estetas (que eram sarcásticos). Se as considerarmos, no entanto, dentro da grande argumentação chestertoniana, percebemos que esse humor condensado em frases o resguarda do orgulho e faz com que o leitor recobre a sanidade da própria consciência.
Sobre o uso do humor, disse Chesterton em Alarms and Discursions:
Humor significa, no sentido literal, fazer o homem de alvo, isto é, destroná-lo de sua dignidade oficial e caçá-lo como no jogo. Foi criado para lembrar que nós, os seres humanos, trazemos conosco coisas tão desajeitadas e ridículas como o nariz do elefante ou o pescoço da girafa. Se o riso não toca uma espécie de tolice fundamental, não cumpriu o dever de trazer-nos de volta a uma enorme e original simplicidade.
Não somos totalmente sublimes, mas somos, todos, grotescos. Faz bem aos homens concentrarem-se naquilo que têm em comum. O orgulho é um pecado solitário; a humildade, uma virtude social. Por isso, Chesterton insistia na virtude do riso.
Sua esperança também aumentava à medida que ficava mais velho. Com o passar do tempo adquiriu esse novo senso de proporção, vivia à sombra da eternidade. Percebera que não devemos esperar o triunfo de nossos ideiais durante a vida terrena e observava placidamente o curso dos acontecimentos. Preservara o humor e o entusiasmo, mas já tinha perdido a impaciência da juventude. Aprendeu que, ao nos aproximarmos dos portões do Céu, depositamos a fé e esperança nas coisas eternas. Nosso Deus guarda o melhor vinho para o final.
3) A Caridade
Chesterton reconhecia que a caridade estava na base da civilização cristã e que mesmo nas condições mais ideais, sua influência benéfica não poderia ser dispensada. A caridade convencional, como a praticada pelas classes abastadas talvez pudesse continuar a existir, mas a velha caritas ainda ardia no coração de cada homem e de cada mulher, “um agnosticismo reverente à complexidade da alma” (Hereges) e que perdoa os pecados mais escarlates!
Acreditava que uma sociedade totalmente ordenada por princípios científicos, baseada em tecnicismos e na justiça estrita seria um lugar impossível de viver. Chesterton, seguindo o exemplo de São Paulo (“Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria!” – I Cor 13, 3), lutou durante toda a vida para defender essa virtude humilde que fora degradada pelos entusiastas do progresso. Concordava com os socialistas que a “caridade para com o pobre” como modernamente entendida, não é caridade, mas justiça; contudo, diferia destes, e também dos humanistas e reformadores sociais de seu tempo, que idolatravam a humanidade (como Auguste Comte). Sabia que se as virtude cristãs fossem negligenciadas pelos reformistas, fossem eles marxistas ou reacionários, os resultados seriam piores do que os males que pretendiam curar.
Chesterton conseguia harmonizar suas convicções políticas com a fé religiosa, pois amava o ser humano, como um bom democrata que era e, como cristão, amava Deus em cada ser humano. Sempre afirmou ser impossível amar a “humanidade”. Só é possível amar os seres humanos como são na realidade, com todas as virtudes e todos os vícios, não como os idealizamos. Não amava a humanidade pois não a concebia como um todo, no entanto, sentia mais compaixão por qualquer desconhecido que a maior parte dos humanitaristas. Tinha o coração aberto ao verdadeiro amor.
A civilização moderna, no ímpeto de tudo querer abraçar, tornou-se frívola, superficial e, portanto, insincera. Passou a valorar as coisas e os relacionamentos pela quantidade e não pela qualidade, pela rapidez e não pela profundidade. Nós, modernos, deixamos de experimentar as delícias do trabalho humano e aderimos à produção em massa, nossa racionalidade tornou-se cética e nossa fé abraçou uma religiosidade comparativa. Poucos intelectuais tiveram a coragem de se opôr aos preconceitos de uma sociedade vaidosa e cheia de si, e Chesterton foi um deles. Sob essa luz é que devemos levar em conta as críticas sociais de Chesterton. Eis a coragem do profeta.
Ao falar da caridade de São Francisco de Assis, Chesterton comenta que cada pessoa que dele se aproximava tinha a certeza de que Francisco interessava-se por ela, por sua vida individual, do berço a cova, que ela estava sendo levada à sério e não era simplesmente mais um número de algum programa social ou era um mero nome em um documento eclesiástico. Só podemos tocar a alma do homem ao demonstar-lhe respeito e consideração: isso é muito mais do que qualquer riqueza, tempo ou atenção que possamos dar à alguém, esse é o fundamento da verdadeira caridade. É muito mais fácil escrever um cheque do que ouvir cada mendigo que bater à sua porta. Esse tipo de “caridade” distributiva não salvará nossa civilização. Isso não quer dizer que reformas sociais não sejam necessárias; quer realmente dizer é que o Estado não tem como lidar com certas questões da mesma maneira e com o mesmo espírito que o indivíduo.
A concepção de democracia de Chesterton está intimamente ligada ao seu amor pelo ser humano, sem distinção de raça ou classe social. A caridade o impelia a defender os pobres com certa indulgência e a ser mais severo com os ricos. No entanto, fazia isso sem “consciência de classe”, mas guiado pelo instinto de compaixão pelos mais necessitados. Dizia que as coisas mais essenciais nos homens eram o que tinham em comum, e não aquilo que os diferenciava.
Amava, sobretudo, o homem comum. Confiava mais nesse tipo humano que a maioria dos reformadores sociais. Quase todos os reformadores (e também os filantropos) tentam transformá-lo, partindo da premissa que o homem comum, pobre e meno instruído, não sabe escolher o que é bom.
Além de serem instruídos e tutelados, aos pobres assistidos por tais programas são negados quaisquer luxos ou caprichos. Para Chesterton, isso era muito lógico e razoável, mas não era respeitoso. Para ele a felicidade dependia das pequenas coisas da vida, bem como das “indispensáveis”. Uma sociedade perfeitamente regulamentada pode, com facilidade, se transformar em um local tão opressivo quanto uma prisão. Chesterton insistia na poesia da vida – mesmo da vida em favelas e bairros pobres.
Assim, qualquer sistema que desconsidere os sentimentos privados e crie discriminação entre as pessoas só pode provocar revolta e uma humilhante submissão. Enquanto o homem for homem, a interferência indevida nos assuntos privados pesará mais que a maior das privações.
Concluímos, então, o individualismo chestertoniano era baseado na moral cristã (poderíamos chamar de um tipo de personalismo) e não em fundamentos econômicos. Criticava indiscriminadamente qualquer legislação que prejudicasse a liberdade individual. O conflito entre Chesterton e o reformador social era, ao mesmo tempo, um conflito de filosofia e de mentalidade. Ambos praticavam a caridade, mas cada um entendia caridade à sua maneira; ambos desejavam tornar o ser humano mais feliz, mas cada um via a felicidade de uma perspectiva diferente. A caridade do filantropo baseia-se na ideia de que a posição do pobre é tão desesperada que tudo deve ser sacrificado para salvá-lo da pobreza. Não consegue imaginar-se no lugar desse pobre. Para ele é impensável que alguém que more em um bairro carente consiga conservar alguma fineza de sentimentos ou alguma das sucetibilidades de uma classe social superior. Por não suportar imaginar-se no lugar do pobre, resolve o parcialmente o problema por intermédio de cuidadosa análise estatística. O ser humano deixa de ser um indivíduo e passa a ser uma unidade, medida e valorada, controlada e inspecionada, muitas vezes com grandes quantias de dinheiro público e privado. Melhorias materiais são privilegiadas, sejam bem-vindas ou não (pelo pobre), necessárias ou não (na visão do pobre). Para tais reformadores os “pobres são os piores inimigos deles mesmos”.
Essa mentalidade foi ferozmente combatida por Chesterton. Ele não estudara os pobres segundo métodos científicos, mas os via com os olhos da filosofia e da religião. Via que algumas proposições reformistas eram necessárias e justificadas, mas outras infringiam os limites da interferência aceitável da esfera estatal na vida das pessoas, o que punha em risco os princípios democráticos e desafiava a moral cristã. Como não era orgulhoso, Chesterton conseguia se colocar no lugar do pobre, e o que viu e ouviu deles convenceu-o de que as pessoas mais simples preservavam valiosas tradições e características individuais que mereciam ser respeitadas e, mais do que isso, mereciam ser admiradas.
Ao testemunhar o crescimento dessa mentalidade assistencialista e desumanizadora para com os menos abastados, Chesterton profetizou o futuro declínio da democracia e a destruição da civilização cristã. Igualmente, lutou contra os novos autocratas, ou seja, contra todos os que cheios de boas intenções violavam o santuário da pessoa humana e tolhiam o livre arbítrio – os proibicionistas (que faziam campanhas contra o consumo de álcool), os vegetarianos, os higienistas e muitos outros, como podemos ver no seu livro Eugenics and other Evils, de 1922.
Nosso profeta risonho não só apontou os males da “caridade” moderna, como nos proporciona, até hoje, um saudável antídoto para as diversas utopias criadas pelo progresso técnico. Os males que tal “caridade” produziu (e produz), como já dissemos, são maiores que os males que tenta curar.
Conclusão
O monsenhor Ronald Knox, na homilia que proferiu na missa réquiem de Chesterton dias após sua morte, afirmou: “É quase certo que [Chesterton] será lembrado como um profeta, em uma época de falsos profetas.” A virtuosidade de Chesterton é sinal de contradição para nosso mundo. Sua volubilidade e leveza (alguns diriam, liberdade) provinha da mais profunda das certezas, a fé em Cristo. Para ele o cristianismo era algo tão alegre e divertido que enchia o crente de um tipo de exuberância inocente, totalmente incompreendida pelos racionalistas tristes e soberbos, que a tomavam por tolice e blasfêmia, mas que na verdade era a expressão da humildade infantil de quem, como Santa Teresa de Lisieux, dirigiu-se para a mesma “pequena estrada da infância espiritual”.
Testemunhou a bondade da Criação e a sacralidade da vida em todos os aspectos. Contemplou a existência como se iluminada por um “surpreendente raio de sol” que o fazia ver o belo, o bom e o verdadeiro com infinita gratidão, visto que “todo o mundo está suspenso por um fio de cabelo da misericórdia de Deus”. Seu profetismo não deixou de denunciar os males desse mundo. Advertiu- que as liberdades humanas estavam sendo ameaçadas, e hoje, essa mesmas liberdades humanas estão em debate. Advertiu-nos, em tempos de prosperidade e paz, contra os perigos do industrialismo. Avisou-nos, quando o imperialismo e a eugenia estavam em moda, que o nacionalismo e a engenharia social eram forças que não seriam facilmente destruídas, mas não viveu o bastante para ver os estragos do nacionalismo e das políticas raciais que lançaram sombra nos corações dos homens.
O “misticismo intelectual” de Chesterton e o vigor de sua pena permearam e permeiam até hoje a imaginação espiritual de vários homens e mulheres “comuns” dando-lhes esperança em tempos de indolência e de crença na exclusiva autonomia humana. O maior segredo dos cristãos, contou-nos ao final de Ortodoxia, é a alegria – não a alegria “joy”, de uma emoção agradável, mas a alegria “mirth”, que poderia ser traduzida por uma constante e jubilosa disposição de espírito.
Encerremos, pois, com a súplica do próprio Chesterton, o arauto da alegria cristã:
Se tiverdes quaisquer orações
orem por mim
deixem-me descansar numa cova cristã
Naquela terra perdida que cri ser minha,
Até que soem as trombetas sagradas
e sejam libertos todos os pobres homens.
A Balada do Cavalo Branco (1911)
[1] CHESTERTON. Saint Thomas Aquinas. pp. 118-119.